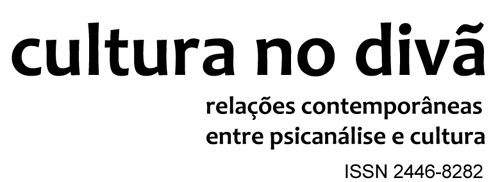Abdicando da distinção entre os termos “cultura” e “civilização” – na medida em que é por meio da apropriação do conjunto de produções humanas, tanto sociais quanto culturais (Kultur), que o sujeito realiza a sua formação pessoal (Bildung) –, Sigmund Freud (1856-1939) parece ter tido razão. O desenvolvimento da cultura pode ser caracterizado pela luta da espécie humana pela vida, ou seja, pela luta entre Eros e a Morte, entre pulsão de vida e pulsão de destruição, derivado e principal representante da pulsão de morte, tal como se elabora na espécie humana.
E, com efeito, ainda que em O futuro de uma ilusão (1927), ao explicitar o significado que dava à expressão “cultura humana” – “tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais” –, o pai da psicanálise chame a atenção para as duas tendências da cultura profundamente dependentes entre si – o controle das forças da natureza e a regulação da relação dos homens uns com os outros –, o acento não tardou a recair sobre a qualidade da relação que se estabelece entre o eu e o outro, oriunda da instauração dos processos da cultura.
De modo que, se podemos identificar, na atualidade, uma demanda por “orientação” e “compartilhamento”, se se busca a “regulação” ou a “normalização” do mal-estar contemporâneo, e se a relação de submissão e dominação que se estabelece entre o eu e o outro é produzida na medida em que o sujeito almeje “se transformar” no desejo do qual foi objeto, é fundamental – ou melhor, imperioso – refletirmos acerca da relação que se estabelece entre o eu e as “novas autoridades”.
Façamos, contudo, um pequeno parêntese – por meio da leitura de três grandes clássicos da literatura ocidental – antes de nos aventurarmos nessa seara, na tentativa de identificar e explicitar as condições de resistência de “outrora”.
Potência de interpretação
De fato, se as parábolas literárias de amplo reconhecimento caracterizam-se por transmitir um “algo a mais” permeado pelo desconhecimento consciente de seus próprios autores, uma vez que lançam luz sobre condições futuras que, à época da publicação de suas obras, não poderiam ainda ser consideradas, não podemos deixar de conceber os romances Nós (1921), de Yevgeny Zamyatin (1884-1937), Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley (1894-1963) e 1984 (1949), de George Orwell (1903-1950), como sintomas de seu tempo.
Consagrados como “utopias negativas” ou “distopias”, interpretados como sátiras ou parábolas, ou ainda como visões sombrias do então futuro da humanidade à luz dos progressos da ciência e dos acontecimentos sociopolíticos do período – que se estendeu de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) –, esses três clássicos da literatura produzida pelo século XX fornecem um retrato de como a submissão absoluta à autoridade implica a degradação humana profunda, quando não a própria morte. É sobre essas relações e suas formas de resistência que leremos nas próximas publicações para, na sequência, avançarmos em nossas reflexões sobre as relações que se estabelecem entre o eu e as “novas autoridades”.
Imagem: Damien Hirst | For the Love of God | Londres | 2007 | escultura